Tirem seus rosários
dos meus ovários
[grito/cartazes nas manifestações de rua]
o retrato de Virginia W., por Sergia A.
Os temas nos escolhem, alguém disse antes de mim e eu repito porque sinto a força de expulsão quando eles teimam em fluir. Alguns se repetem. São insistentes, persistentes, como se o que se disse uma vez tenha ficado aquém, muito aquém de todas as suas possibilidades. Este me persegue, e eu não posso fugir ainda que passado o oito de março. Ou, talvez, exatamente por ter vivido este oito de março.
Cresci tendo mulheres como referência, em casa, na escola, na rua e até mesmo na Igreja. Havia as santas, mas foi a imagem de Joana D'Arc que eu ganhei de presente. Havia a severidade do discurso religioso, que fecha os olhos para a importância da presença de Maria Madalena nas parábolas de Cristo, mas eram as freiras que vinham de um mundo distante e mantinham com rigor o funcionamento da escola. Uma delas me ensinou a gostar de números. Foi por elas que aprendi que o mundo se estendia além das fronteiras da minha aldeia, e que ultrapassá-las era coisa de mulher.
Talvez por isso este tempo de retrocessos me chegue com tanta estranheza. Quando jovem estudante de engenharia ou na vida adulta trabalhando na área financeira, sentia na pele o peso da desigualdade. Embora em termos de remuneração isso não existisse na empresa que me empregava, o preenchimento de cargos gerenciais era predominantemente masculino. No entanto, mais que a ilusão de que o mérito individual a tudo vencia havia uma perspectiva de futuro, havia discussões sobre equidade e acreditava-se que a superação do estigma da competição entre maternidade e carreira seria uma questão de tempo. Assim é que, nas horas vagas, era possível ler a biografia de Rosa de Luxemburgo ou de Olga Benário. Encantar-se com o que escrevia Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clarice Lispector. E se isso fosse pouco, ainda podíamos admirar a ousadia de Pagu, Nina Simone e Leila Diniz.
Por acreditar que ser independente era caminho, criei filhas entre dúvidas e sentimento de culpa. A urticária tomando conta do corpo quando me diziam que ser mãe era papel indispensável. O amor por elas nunca me fez crer na procriação como projeto. Antes, era efeito colateral do prazer de viver. Entre erros e acertos, não caramelizei os caminhos que elas livremente seguiram. Ofereci-lhes, talvez, o alicerce. Cabia-lhes a construção. Pelo vidro da janela avistava-se uma cambaleante democracia se firmando. Ainda que muitas vezes a esperança fosse atropelada pela paranóia que alimentava as ilusões da classe média, tivemos uma Dra. Ruth Cardoso reinventando o papel de primeira dama, em seguida uma Dona Marisa, companheira de lutas históricas do marido metalúrgico e presidente. E ao lado desses estavam beneditas, dilmas, erenices, marinas, nilceas, emílias, martas e matildes ocupando espaços ditos masculinos, até então. Avistamos um desfile em carro aberto em que uma presidenta se fazia acompanhar de sua filha. Sim, de coadjuvantes passávamos a ser protagonistas, esse era o recado. Nem tudo era flores, que o diga as nossas tristes estatísticas de violência doméstica e estupros, mas havia a luta das margaridas em outros campos e as delegacias da mulher davam outra cara às denúncias e aos processos. A mudança é um longo processo. E ele estava em curso.
Talvez por isso quando decidi estudar letras e ingressei no mestrado acadêmico não tenha seguido a linha de pesquisas em literatura e relações de gênero. Recusava-me a estudar a literatura de forma compartimentada. Julgava inteiramente desnecessário. Como se já tivéssemos superado a barreira do silêncio, ou do machismo no mercado editorial. Como se não valesse a pena o resgate das vozes silenciadas. Como se bastasse às mulheres escrever bem, e colher os louros. Como se o que agora lhes cabia, era tão somente trabalhar duro para garantir o elastecimento do lugar conquistado. Ainda assim fiz aulas em uma disciplina dedicada ao estudo da escrita feminina. Corria o ano de 2011, ao apresentar um seminário sobre Adélia Prado, ousei dizer que a pesquisa me fazia voltar atrás e reconhecer ser ainda necessário estudos daquela natureza mesmo na segunda década do século XXI. Fui corrigida por uma feminista sobre o uso da palavra "ainda", que devia ser substituída pelo "agora que temos voz é mais que necessário" para garantir o fortalecimento. Pisávamos em terreno pantanoso e manter-se vigilante era questão de sobrevivência.
Talvez por isso eu não tenha me dado conta que, silenciosamente, os incomodados com o tal fortalecimento se apossavam das representações populares. O discurso da prosperidade aliado ao moralismo em defesa da família tradicional ganhava adeptos nos púlpitos enquanto eu dormia. No primeiro abalo que a economia nos trouxe, suas garras afiadas saltaram dos porões. De repente em 2014 elegemos o congresso mais conservador desde a ditadura militar. Em consequência os anos 2015 e 2016 foram marcados por constantes ameaças ao Estado Laico embutidas nos projetos de lei ultraconservadores, inspirados em bases religiosas. Para concentrar-me no nosso tema, apenas sobre questões que envolvem o aborto, por exemplo, tramitam pelo menos seis projetos e inúmeras propostas ativas que retiram da mulher o direito a procedimentos seguros, e de assistência física e psicológica nos poucos casos em que a lei brasileira já permite a interrupção da gravidez, além de endurecer a pena para a conduta. Percebe-se que a intenção, ainda que sob a égide da proteção da vida, é penalizar a liberdade sexual das mulheres. Se assim não fosse os projetos de "proteção ao nascituro" tratariam de prevenção da gravidez indesejada, da educação sexual nas escolas, de programas de orientação sobre contracepção a jovens e adolescentes, do avanço nos direitos que conciliam maternidade e mercado de trabalho.
Eis que corre o ano de 2017. No oito de março, mulheres do mundo inteiro vão às ruas em defesa de direitos que pareciam conquistados, e outros tantos ainda por conquistar como o fim da violência e igualdade salarial. Por aqui, um retrógrado poder ilegítimo, em um gesto machista e desrespeitoso, reafirma estereótipos. Nossa crise, portanto, vai além da economia em recessão e atinge a representatividade nos três pilares do que supostamente seria uma democracia. Os que lá estão se dissociam dos interesses da população que os elegeu e criam um fosso profundo. Já não há um projeto de nação, o pensar um país em que cidadãos, em sua ampla diversidade, sejam capazes de se realizar como seres humanos.
Volto para a leitura de Virginia Woolf, que larguei por um instante para me certificar de que estou no século XXI. Encontro logo no início do conto [Phyllis e Rosamond], escrito em 1906, o desejo de fazer um retrato para contrabalançar os "retratos (...) quase invariavelmente do sexo masculino, que se empertigava pelo palco com proeminência maior", tendo como modelo "uma dessas muitas mulheres que se agrupam na sombra". O relato da necessidade de estarmos atentos aos cordões que no escuro manipulam nosso plano de visão na literatura ou na história. E, principalmente para mostrar que as tais "figuras obscuras", sob o olhar feminino, ocupam um lugar diferente daquele que a "mão do exibidor assume na dança das marionetes".
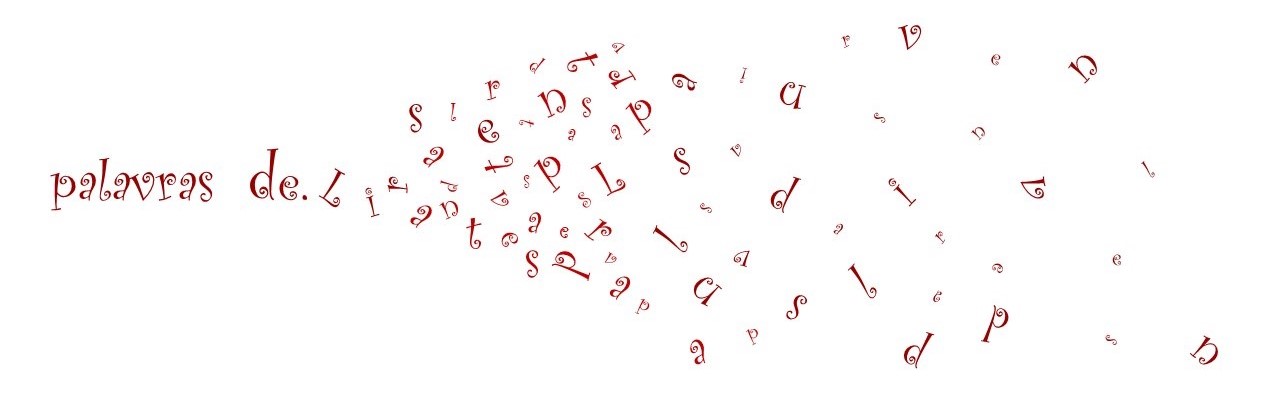

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela visita! Volte sempre.